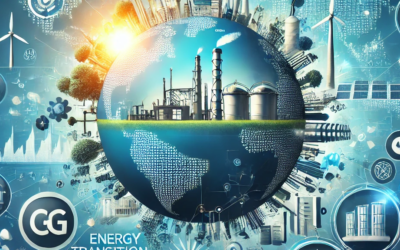Enfim chegamos ao momento em que todo professor e estudioso de direito constitucional sonhava. Ver seu objeto de estudo, o direito constitucional, na boca do povo, mais que futebol, mais que carnaval. Por um lado a Constituição Federal de 1988, também chamada Constituição Cidadã, cumpriu parte de sua função cujo objetivo era no sentido “que cada cidadão brasileiro possa receber do Estado um exemplar da Constituição do Brasil” (artigo 64 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Ainda bem que evoluímos de 1988 porque, com o advento da internet, podemos tirar ao menos esse ônus do Estado brasileiro. Cada cidadão pode, pagando a sua conexão com a internet, no seu computador, tablet ou celular, baixar gratuitamente (e sem a obrigação do Estado), imprimir a versão atualizada da Constituição Federal. E antes que eu me esqueça vou colocar o endereço eletrônico da versão atualizada que vai até a Emenda Constitucional nº 116/2022, de 17 de fevereiro de 2022:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/596093/CF88_EC116_livro.pdf
Em 2022 você certamente resolveu abrir a Constituição de 1988 porque viu alguma decisão do Supremo Tribunal Federal que decidiu neste ou naquele sentido e resolveu ver o que ela fala. Ou então você assistiu algum jornalista falando alguma notícia utilizando as palavras governo, Supremo Tribunal Federal e Constituição que lhe dispararam gatilhos ou de concordância ou de desacordo. E como consequência ou você pensou o quanto nossa Constituição de 1988 é importante ou quanto ela não nos representa.
Qualquer que seja o enquadramento em que você se encontre, você não está só. E todos nós estudantes do direito constitucional procuramos dar uma explicação para esse fenômeno. A parte introdutória para entender exatamente o que estamos vivendo sob a ótica constitucional é o que pretendemos nesse ensaio, de maneira simples, mas sem se afastar da boa técnica terminológica.
História constitucional
Esse ano de 2022, em que celebramos os duzentos anos de nossa independência são sete as Constituições brasileiras 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988.
As Constituições que foram discutidas, votadas e promulgadas foram as de 1891, 1934, 1946 e 1988. As demais foram outorgadas: 1824 pelo Imperador, 1937 por Getúlio Vargas e 1967 pelo regime militar. Nesses 200 anos o Brasil viveu 99 anos sob um regime constitucional não democrático: 2 anos sem Constituição + 67 anos da Constituição Imperial + 9 anos da Constituição de Getúlio Vargas + 21 anos da Constituição do Regime Militar. Daí a importância de cada ano que vivemos sob o regime democrático. Aprender a tolerar e negociar. Entender o papel das maiorias e das minorias.
Ainda não aprendemos a viver a longevidade democrática-constitucional. Em nossa história constitucional a única tentativa de uma sucessão constitucional democrática por outra foi violentamente intermediada por dois movimentos fratricidas (golpe de 1930 e revolução constitucionalista de 1932) e mesmo assim não gerou frutos já que a Constituição de 1934 somente durou 3 anos. O regime democrático no mais das vezes é um regime jurídico de fricção entre as diversas forças que ora negociam, ora esgrimam e ora se digladiam na arena Constitucional.
É possível identificar esse movimento dinâmico quando lemos os comentários em cada Constituição que passo a pegar alguns exemplos para vermos a atualidade dos textos.
Carlos Maximiliano, ex-Ministro da Justiça, ex-Ministro do STF, autor do clássico livro Hermenêutica e Aplicação do Direito (1924), que em maior ou menor grau influenciou todas as gerações de juristas nascidas no Século XX, nos comentários à Constituição de 1891 (1918) escreveu o que viveu. A parte histórica é absolutamente sensacional de deve ser lida por monarquistas e republicanos, num relato de quem viveu ativamente o período. O quero trazer para a ciência do leitor é a materialização da fricção democrática nas palavras do comentarista da Constituição.
Diz Maximiliano (vou colocar as citações na ortografia atual) que “a palavra democracia significa etimologicamente governo do povo, isto é, o regime em que todos os indivíduos, sem distinção de classes, participam ou podem participar do governo do país.
Na democracia antiga ou direta, o povo reunia-se ema assembleia, para deliberar sobre os negócios públicos. Adotaram-na a Grécia e os primitivos cantões suíços. Na democracia moderna, representativa ou indireta, a vontade da maioria prevalece e afirma-se pela voz dos mandatários eleitos pela multidão.
Nenhum dos dois sistemas é incompatível com a monarquia. Sendo parlamentar esta, o rei reina, e não governa: responde pela administração o Gabinete oriundo do voto popular.
Não são democratas os discípulos de Augusto Comte, preferem a sociocracia, isto é, o governo de um presidente, guiado pelos sacerdotes e pela opinião pública, enfeixando nas mãos o poder executivo e o legislativo tendo a faculdade de indicar o próprio sucessor.
Não há redundância na expressão: regime livre e democrático.
É compatível com a democracia o despotismo irresponsável das maiorias onipotentes.
Como bem observa Combes de Lestrade, se os membros da maioria são bastante filósofos para crer que são livres porque mandam, igual consolação não restará para a minoria.
No Brasil e nos Estados Unidos não há, como na Inglaterra e na França, a onipotência parlamentar.
A Constituição traça os limites da ação dos poderes públicos e ressalva os direitos individuais.
Contra a prepotência das maiorias há o recurso para o Poder Judiciário, que anula os atos inconstitucionais do Congresso e do Executivo.” (in Commentarios á Constituição Brasileira, 2ª edição, ampliada, Jacintho Ribeiro dos Santos Editor, Rio de Janeiro, p.116/117)
Sobre a Constituição de 1934, Pontes de Miranda escreveu: “Toda democracia é uma atenção ao querer e um esforço para identificar: marcha-se, sem que se sonde; mas marcha-se. O seu fim é, pois, uma esperança, e não, propriamente, um fim; espera-se que se chegue ao acordo, pelas simetrizações que atenuem as diversidades da vontade. Daí a irremediável contradição de toda democracia que não igualiza a escola, que não procura tornar possível a identificação a que aspira. Não é só isso. Toda democracia é a luta contra as lutas, porque organiza pleitos que evitem os choques. Ainda mais. Toda democracia supõe a vontade livre; portanto liberdade, que preceda a função democrática, e solução, que não a sacrifique; porque a democracia é no tempo, em soluções sucessivas e provisórias. No Século XIX, o burguês escamoteou o cidadão; porque o citoyen mesmo era o bourgeois, que se hipostasiou no terreno político e falou em nome de entidade que era mais do que ele, uma entidade que não existia e teria de ser feita.
Outro traço imprevisto da democracia: ela é um fazer-se; afirmá-la é apontar a dimensão por onde ela passará, o que ela, como técnica, se fará. Tudo que a comprometa no futuro já agora a envenena: daí a luta entre ela e as “classes”, entre o citoyen e o bourgeois (Entre a liberdade e a igualdade, dizem alguns; mas, em verdade, entre a igualdade política e as desigualdades não-políticas ou menos políticas, que a ameaçam ou corrompem. O avanço da democracia para ser democracia.)
…..
Todo presidencialismo é um resto de monarquia; um rei a curto prazo e a forma de governo, uma monarquia a prestações. Sociologicamente, o parlamentarismo é a menos imperfeita das democracias burguesas, e o ser de outro círculo de civilização, que visse realisticamente, nenhuma diferença faria entre uma República presidencial e um Reino constitucional recém-formado, notá-lo-ia entre uma República presidencial e uma República parlamentar ou um Reino constitucional a governo parlamentar. Na América do Sul, o presidencialismo é a forma civilizada do caudilhismo, o caudilho central escolhido pelos caudilhos locais.
…..
Os que defendem a democracia liberal e os que a atacam por vezes não sabem o que é que defendem e o que é que atacam. Porque não precisam os dois conceitos: Democracia, Liberdade.
O Brasil ainda terá outras oportunidades de optar entre o fascismo, o tipo russo e eu tipo seu. Até lá, o que nos cabe, a fim de nos preparemos para qualquer deles, ou para persistirmos na democracia liberal, é praticar a representação (fazer eleições), assegurar as liberdades individuais, produzir e distribuir. Fora daí, tudo é insânia.”
Já sobre a Constituição de 1946 o mesmo Pontes de Miranda disse: “No Século XX, principalmente após a Grande Guerra, não é possível falar-se de Constituição, sem se lhe procurarem as causas e a função sociológica. Constituição só política, sem preocupações do problema social, que avulta cada dia, agravado por outro, que é o das relações entre os Estados de toda a Terra é temeridade, sobre ser anacronismo. Ao mesmo tempo que se observa a tendência à fixação dos fins da política, obrigando à nitidez dos programas partidários, ou à própria instalação do unipartidarismo, outra tendência, igualmente inevitável, exige que o Estado lance das forças econômicas, quer das forças éticas, que das forças culturais e religiosas, quer de qualquer atividade do homem.” (in Comentário à Constituição da República dos E. U. do Brasil, Tomo I, Editora Guanabara., p. 10-11-12-14)
Sobre a atual Constituição de 1988 teremos a oportunidade de evoluir em outros textos. Para os fins deste, basta vermos parte do discurso de promulgação da Constituição de 1988 quando o então Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães teve oportunidade de se pronunciar sintetizando que “a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca.” https://www.camara.leg.br/radio/programas/277285-integra-do-discurso-presidente-da-assembleia-nacional-constituinte-dr-ulysses-guimaraes-10-23/
Pelos trechos dos comentários às constituições democráticas pelos comentaristas da época vemos que não há uma relação necessária entre a forma de Governo – República ou Monarquia – e a existência do regime democrático. Em verdade mesmo sendo a Proclamação da República um golpe de estado, ela não foi tão-somente o início da República. Ela foi mais o fim da monarquia, que vinha se deteriorando profundamente desde a dissolução parlamentar de 1868. Esses 21 anos entre a dissolução parlamentar e a Proclamação da República deram a amalgama bastante sólida para o fim do Império. O manifesto do Partido Republicano em 1870 e o anseio por reformas que o Imperador não encaminhava por todos os setores são apenas alguns exemplos. Dentre eles podemos listar a descentralização federativa, com a eleição dentro das províncias, já que o Império era um estado unitário e que os presidentes das províncias eram indicados por escolha do Imperador. Se por um lado esse era um anseio das oligarquias estaduais que se fortaleciam, a possibilidade de existência de um arremedo democrático era um pano de fundo relevante. A Europa continental ensaiava o fim da monarquia, principalmente em França. A extinção do Poder Moderador e da vitaliciedade do Senado do Império também surgiam dentro desse anseio de reforma, daí porque em nosso sentir, os comentarias das primeiras constituições ressaltavam muito mais a importância da Democracia e menos a forma de governo.
Daí também a importância da defesa da democracia, por meio de uma constituição democrática. Daí porque cada ano da nossa Constituição de 1988 é tão importante para a história do Brasil. Estamos há mais de 30 anos aperfeiçoando os institutos que nela estão inseridos, exercendo a fricção democrática, com erros e acertos, com avanços e retrocessos. Vamos discutir um tema qualquer, que o façamos dentro do conhecido campo democrático-constitucional. Até porque, se não formos capazes de aperfeiçoar um texto, não seremos dignos de construí-lo do zero!
De mais a mais, quanto mais longevo um texto constitucional, maior será sua comprovação de resiliência no exercício da fricção democrática.