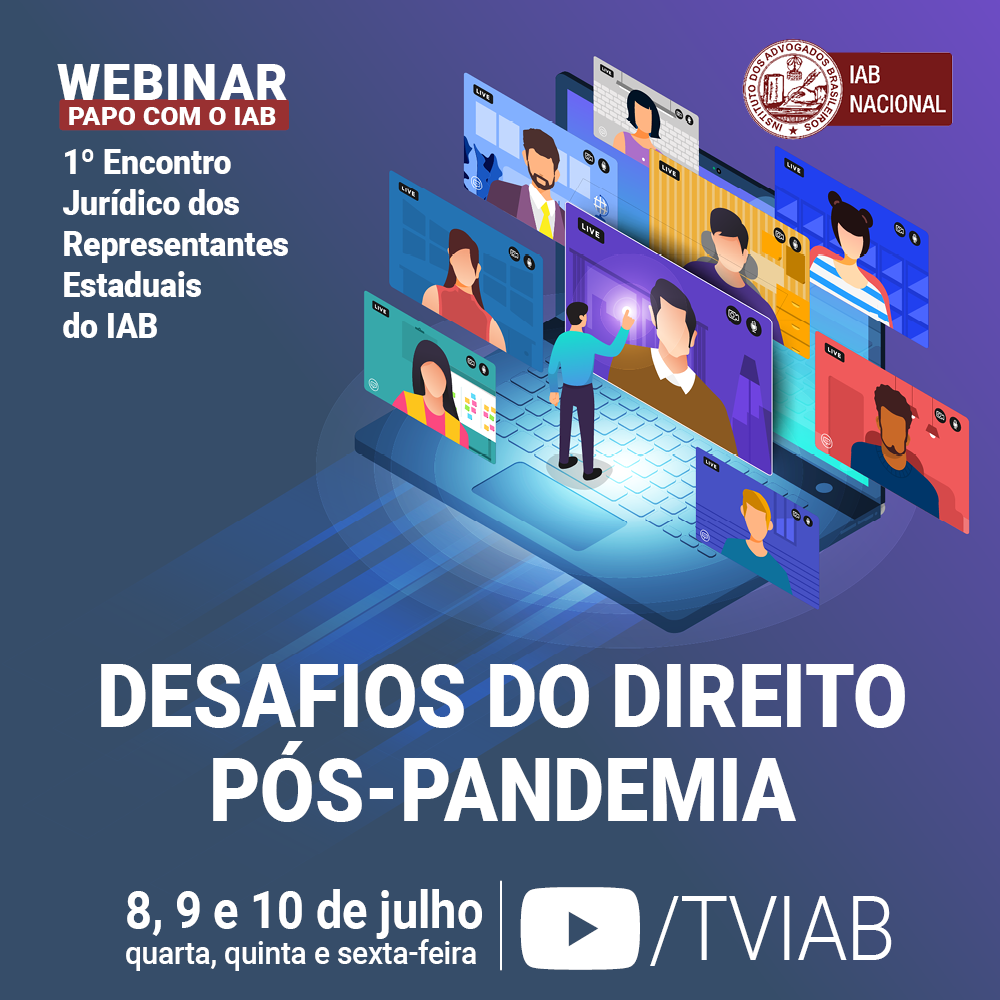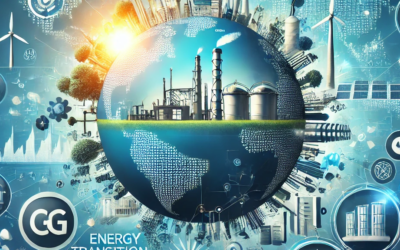Direito Pós-Pandemia: A Inércia Legislativa e o STF
Vivendo os momentos atuais com fatos inéditos e outros nem tanto, vem a minha mente um dos vários ensinamentos que o Professor de Direito Constitucional Marcello Cerqueira me passou e que, com o passar dos anos, só demonstrou ser mais valioso e recorrente. Marcelo Cerqueira tem uma vida marcada pelo seu protagonismo na vida pública como advogado, político e professor em momentos difíceis da história nacional. Ele me dizia que o diabo é perigoso não porque tortura as almas penadas no caldeirão do inferno. Ele é perigoso porque é velho e já viu muita coisa.
Assim é a história, a vida política e o direito. No mais das vezes a turbulência e incerteza do momento atual só trará sobressalto àquele que não leu, não viveu e não entendeu o que aconteceu no passado. O objetivo dessas linhas a trazer alguns elementos para a reflexão dos dias atuais baseados em três escritos (dois meus e um da professora Vânia Aieta), já de algum tempo, compilados e montados como um quebra-cabeças cujas peças já nos eram conhecidas. As distorções de ontem e de hoje trarão consequências que seguem uma relação de causa e feito no mais das vezes previsível, a depender da corrosão natural ou artificial das instituições.
Vamos analisar o momento atual com base num texto que escrevi há mais de 10 anos sobre as medidas provisórias, em outro de 2017 sobre o funcionamento do STF e no livro Criminalização da Política, também de 2017, da Professora Vânia Aieta.
A Constituição Federal de 1988 foi feita na legislatura dos deputados eleitos em 1986. Quando da Assembleia Nacional Constituinte o sistema de governo muito foi debatido no sentido de se identificar se para o Brasil seria melhor o presidencialismo ou o parlamentarismo. Como a questão gerou um impasse, os constituintes deixaram essa decisão para o povo, tal como previsto no art. 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, realizando o plebiscito de 1993.
O instituto mais tipicamente parlamentarista adotado na Constituição de 1988 é a medida provisória. Na época se buscava um substituto para o Decreto-lei do sistema constitucional anterior, considerado autoritário. O Decreto-lei passava a viger no ato de sua publicação e caso o Congresso Nacional não o rejeitasse em 30 dias ele se cristalizava de forma permanente no ordenamento jurídico.
A medida provisória foi copiada do direito italiano onde ela passava a viger durante os 30 dias a partir de sua publicação (esse comando de 30 dias foi emendado na Constituição Federal – Emenda Constitucional nº 32/2001 – e hoje são 60+60 dias nos termos dos §§ 3º e 7º, do artigo 62) . Caso ela não seja votada perderá a sua validade (caducará). No texto brasileiro ela está prevista no artigo 62 da Constituição Federal e seu principal elemento motivador são a “relevância e urgência”, que têm gerado uma série de discussões judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal para decidir se em determinado caso aquela medida provisória era urgente e relevante. Isso gerará uma classificação infinita do que seja relevância e urgência, já que os dois requisitos devem estar presentes. Voltaremos a esse assunto mais adiante.
O ponto principal que diferencia o modelo italiano do brasileiro é que lá não há a necessidade de se definir o que é relevante e urgente. Como o sistema é parlamentarista, caso uma medida provisória seja rejeitada cai o gabinete do primeiro ministro e caso o parlamento não vote a medida provisória dentro do seu prazo de vigência, cai o parlamento e são convocada novas eleições. Esse mecanismo dá a medida segura de que o primeiro ministro negociará com o parlamento antes de expedir uma medida provisória e que o parlamento não deixará de fazer sua função principal que é criar a legislação, aprovando-a ou rejeitando-a.
Lá também o texto não pode ser emendado. Ou se aprova ou se rejeita. Esse era o sistema da medida provisória italiana quando da criação da Constituição Federal.
De lá pra cá a dinâmica da vida política brasileira modificou o purismo do modelo adotado, sendo que passaremos a enumerar algumas adaptações. A medida provisória poderia ser reeditada infinitamente desde que não tivesse sido rejeitada, isto é, se ela perdesse a eficácia porque não tinha sido votada poderia ser reeditada sempre (assim era até o advento da Emenda Constitucional nº 32/2001). Caso fosse rejeitada só poderia ser apresentada na legislatura seguinte (hoje funciona assim para a caducidade também). No começo de sua existência os números de suas reedições não tinham uma correlação entre si e como não havia internet, o interessado tinha que reler todo o diário oficial (em jornal) a cada trinta dias para saber se alguma palavra, expressão ou artigo tinha sido modificado. Depois foi modificado esse sistema e somente quando mudava o texto é que se alterava o número o da medida provisória. Passaram a incluir um hífen, com números sequenciais para que se soubesse quantas vezes ela havia sido reeditada. Como não tinha como o “parlamento cair”, igual ao modelo italiano, a prática era que no mais das vezes ela nunca era votada, ou seja, a chamada inércia legislativa (que nesse texto iremos colocar seus vários enfoques) era uma recorrência.
Em relação ao texto em si, desde logo a ideia de texto imutável foi abandonada, sendo que as medidas provisórias são emendáveis, tal como os projetos de lei que criam a legislação ordinária (sendo comum “penduricalhos” legislativos, quando se inclui um comando que nada tem a ver com o projeto de lei ou medida provisória).
Temos então um primeiro momento onde a inércia legislativa passou a colocar a carga da responsabilidade legal nas costas do Poder Executivo, que deveria ficar encarregado de atentar para a realização de nova legislação, como também, foi o incentivo para o chamado presidencialismo de coalização ou mesmo, em linguagem vulgar o chamado “toma-lá-dá-cá” onde a aprovação de determinados textos implicava num assentimento com a distribuição dos cargos que determinado partido ou grupo político detinha. Foi justamente por conta dessa prática que procedimentos pouco ortodoxos como os chamados mensalão e petrolão apareceram anos mais tarde, pela simples lógica de que era mais fácil ter os congressistas numa folha de pagamentos paralela em troca de seus votos na aprovação de determinado texto legislativo, do que ter que negociar com parlamentares a cada votação. Uma lógica nefasta alimentada pela inércia legislativa e que acabou se arraigando no sistema político brasileiro.
Expedientes regimentais nas casas legislativas tais como extensão do prazo das medidas provisórias ou mesmo o trancamento da pauta de votações foram tentados, mas os congressistas rapidamente entenderam a mensagem da brecha que o sistema constitucional lhes permitiu: Quando o Legislativo não faz nada o ônus da decisão passa a ser de responsabilidade de outro poder, seja o Executivo ou o Judiciário.
Também quando da elaboração da Constituição Federal, vários temas geraram impasse na Assembleia Nacional Constituinte sendo que na sua conclusão, os assuntos que o legislador constituinte achou melhor apenas pautar para que posteriormente o legislador comum pudesse complementar o sentido constitucional, foram deixados para as leis complementares em sentido amplo. Sempre que vemos comandos na constituição tais como “em virtude de lei”, na “forma da lei”, em “virtude de lei complementar” estamos dentro da seara da lei complementar em sentido amplo, isto é, para que determinado comando constitucional tenha plena eficácia é necessário que haja uma lei que lhe defina o sentido e alcance.
Mais uma vez vemos que a Constituição Federal empoderou o Poder Legislativo e mais uma vez um sem número de leis nunca foram promulgadas pela inércia legislativa. Só que essa inércia legislativa, perpetuada no tempo na função de dar completude ao comando constitucional caracteriza a chamada inconstitucionalidade por omissão, descrita no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal. Na prática a Constituição Federal diz que, caso o Poder Legislativo não faça o seu papel por persistir, insistir e, em alguns casos, resistir e permanecer na inércia legislativa em complementar os ditames constitucionais, o Poder Judiciário poderá ser chamado a fazer essa tarefa.
Nos primeiros anos da Constituição Federal o entendimento no Supremo Tribunal Federal é que nesses casos o STF intimaria o Congresso Nacional para que fizesse a lei em até 180 dias e caso não fizesse… nada aconteceria. Posteriormente o STF viu que, como o Poder Legislativo permanecia inerte, a solução seria mudar seu posicionamento. Ele passou a dizer qual seria o direito para complementar a lacuna constitucional caso o Poder Legislativo permanecesse inerte (e na maioria dos casos foi isso que aconteceu).
Esse papel protagonista do STF passou a trazer para si a responsabilidade originária do Poder Legislativo, tão somente porque o próprio Poder Legislativo permaneceu inerte.
O ativismo judicial é o filho legítimo da inércia legislativa.
Outro fator importante do protagonismo do STF é entender o seu papel. A Constituição Federal de 1988 trata o STF como um corpo único e colegiado. Nada mais correto. O posicionamento do grupo composto pelos onze ministros que integram o STF é, em síntese, o seu papel constitucional.
O distanciamento do que diz a Constituição e a prática começou a ocorrer por dois motivos: a ampliação dos direitos constantes na própria Constituição Federal de 1988, que fez com que vários assuntos passassem a ser da competência do STF, enquanto guardião da Constituição Federal, e o próprio desenvolvimento da cidadania, que fez com que a população demandasse mais por seus direitos.
Na prática isso significa dizer que o STF ficou entupido de recursos e processos originários da sua competência. Impossível que onze ministros conseguissem dar vazão à quantidade de processos. A solução encontrada foi o empoderamento de decisões individuais em detrimento de uma posição colegiada, mais precisamente, de uma decisão plenária do STF.
Essa individualidade revela uma nova face do STF, além dos limites da Constituição Federal. A primeira delas seria contrariar o plenário do STF. Mesmo após uma decisão colegiada os ministros vencidos mantém sua posição minoritária e caso algum pedido liminar seja para ele distribuído encontrará guarida ainda que o plenário do STF tenha decidido de forma diversa. Essa atitude não se confunde com a independência. Independência deveria ser até que a decisão plenária fosse tomada. Outra característica individual é evitar o plenário, quer por pedidos de vista que se perpetuam por tempo indefinido, contra a previsão regimental do próprio STF, ou ainda quando o ministro é relator e demora para colocar determinado processo para julgamento. A terceira atuação individual ocorre quando o ministro somente submete determinada matéria ao plenário quando encontra uma forte pressão popular alinhada com a sua forma de pensar (que significa colocar o plenário como refém da opinião pública).
A legislação foi adaptada para a criação de súmulas vinculantes, decisões do STF que vinculam todas as instâncias do Poder Judiciário, bem como o que se chama de repercussão geral, onde um processo precedente, trava e represa todos os demais processos sobre aquela mesma matéria até que o STF se pronuncie.
Existem até aqui duas explicações do papel protagonista do STF: A inércia legislativa a mudar o epicentro da tomada de decisão política do Poder Legislativo para o Poder Judiciário e o empoderamento das decisões monocráticas em detrimento das decisões colegiadas, como fruto do próprio congestionamento do STF.
Aí vem então o terceiro elemento que agrava a atual situação para muito além do que pensa ou propõe a Constituição Federal e que foi brilhantemente analisada em 2017 pela Professora Vânia Aiêta em seu livro “Criminalização da Política”. O Poder Legislativo é inerte e quando age, judicializa as suas questões internas. As minorias, derrotadas nas discussões legislativas, querem fazer valer o seu ponto de vista político pela judicialização da matéria. Em duas passagens a Professora Vânia sintetiza como ninguém a matéria quando diz que “a ideia acabou sendo levada a um extremismo demasiadamente perigoso à Democracia, ao conceder espaço para a atuação do Pode Judiciário para além dos limites definidos tanto na Carta Magna brasileira como pela legislação democraticamente produzida no país, de modo que a intervenção do Pode Judiciário hoje encontra-se sem parâmetros seguros no que se refere ao seu limite de atuação”. E continua a Professora Vânia Aiêta a dizer que “observa-se no Brasil que o perfil comportamental do Poder Judiciário e o modelo de constitucionalismo eleito pelos intérpretes juízes guardam fortes interseções, fomentando a defesa do ativismo judicial. O fato é que isso não pode servir para uma autorização em branco, a fim de que os membro do Poder Judiciário passem a fazer Política a partir de seus julgados fulcrados em posicionamentos isolados construídos a partir do legado axiológico do intérprete julgador, como se seus membros fossem os únicos representantes da Democracia no Brasil, falaciosamente legitimados a alterarem a legislação e até a própria Constituição, como com tanta ousadia que temos visto acontecer”.
A situação está posta. O Poder Legislativo ou fica inerte deixando ônus e bônus para Poder Executivo e Poder Judiciário ou age através de suas minorias judicializando temas e levando para o Poder Judiciário a sua esfera de discussão.
Mas ainda há um agravante que deve ser dito. Com o congestionamento do STF o sonho dos ministros de escolherem aquilo que se quer julgar virou quase que uma necessidade de sobrevivência. Hoje é humanamente impossível que os ministros de forma isolada ou colegiadamente dêem vazão a todas as causas que estão colocadas no STF em espaço do tempo aceitáveis. Só que ao invés de serem feitas propostas legislativas que resolvam o problema, o Poder Judiciário sabe que, diante da inércia legislativa, impossível será a equalização dos problemas e encaminhamento das soluções de forma legal/legislativa. Entre a situação que estamos e a que se pretende chegar o STF ao invés de pedir ajuda ao povo do qual emana seu poder, prefere uma saída regimental, com modificações afastadas dos princípios mais básicos de defesa, deixando os advogados que lá militam reféns de um isolamento judicial sem qualquer contato com os ministros (por conta da pandemia) na defesa dos interesses de seus clientes.
Todavia há solução mesmo em tempos de polarização, pandemia e mobilização social . Montar projetos de lei de iniciativa popular para que se modifique os status quo dentro do próprio sistema constitucional-democrático, colocando cada poder dentro da sua esfera de competência. O grande exemplo disso foi a lei da ficha limpa. Lei de iniciativa popular que com, sem ou apesar da situação dos poderes entrou para o ordenamento jurídico nacional pressionado pela iniciativa popular da sua criação à sua promulgação. Em tempos de distanciamento social a sociedade além de mobilizada está mais atenta do que nunca. Só falta agir com as ferramentas criadas pela própria Constituição Federal e a tecnologia permite que isso seja feito com segurança e transparência.
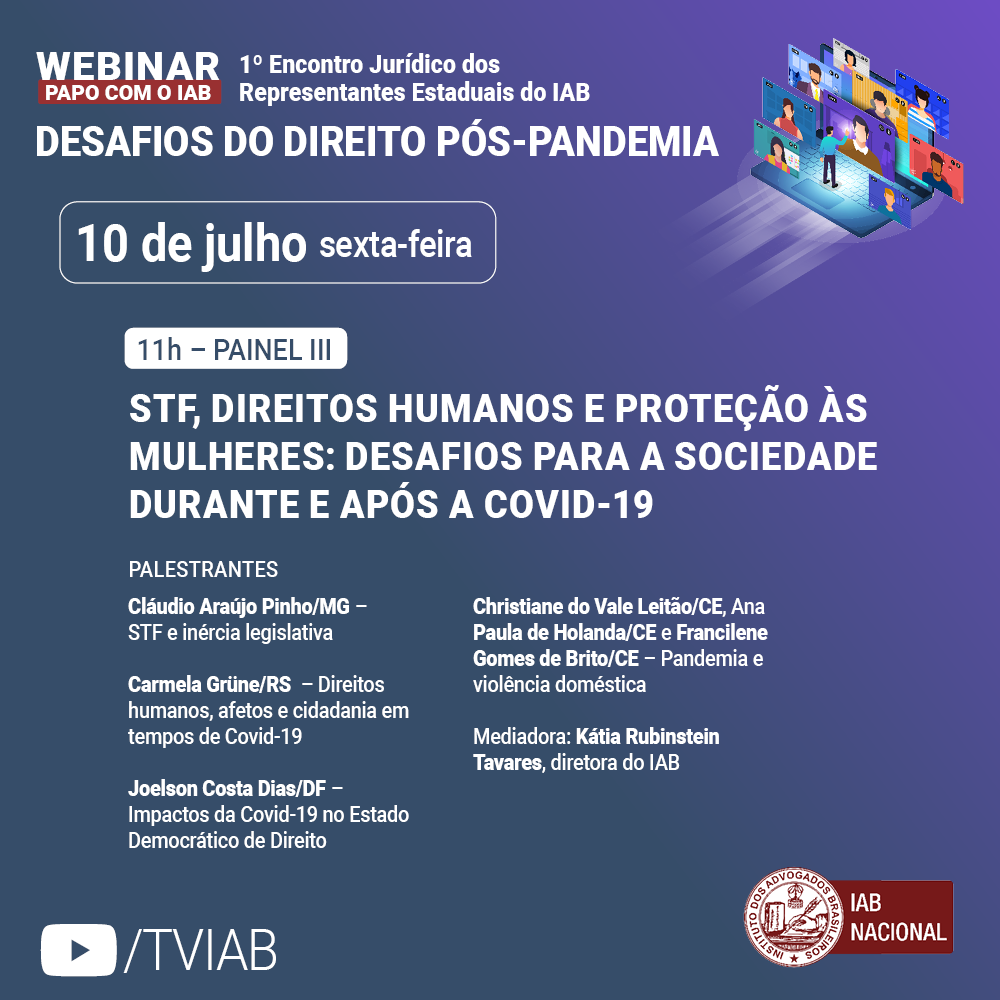
-x-x-x-